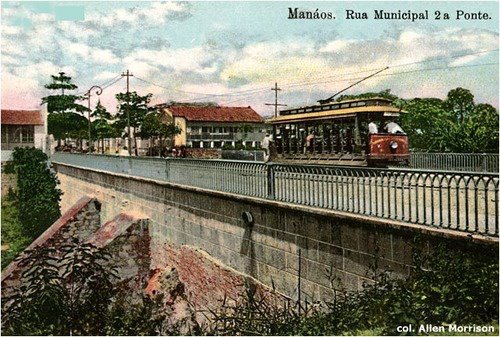Por Jefferson Peres
Anos depois, as duas emissoras de rádio locais, a Baré e a Difusora, decidiram explorar o filão descoberto pelos criadores da feira. Antes, à semelhança das emissoras do sul do país, lançaram os programas de auditório, em suas próprias instalações, como a Difusora, que então funcionava em um velho prédio na Joaquim Sarmento, quase defronte à sua sede atual, ou utilizando o Guarany e o Polytheama, como fazia a Baré.
O programa da Difusora se intitulava Tem Gato na Tuba, porque o calouro que se saía mal era advertido com um miado desaprovador. A Baré, sucessora da pioneira Voz da Baricéia, já realizava esses programas desde o tempo em que pertencera ao governo do Estado, adquirida de seus primitivos donos. Com estúdio instalado no prédio da Associação Comercial, foi lá que estreou como calouro o garoto Carlos Augusto Carneiro, que ainda aspirava a fazer carreira como cantor de rádio.
Incorporada à cadeia dos Diários e Rádios Associados, partiu, já na década de cinquenta, para a construção da Maloca dos Barés, um grande auditório descoberto, construído no mesmo terreno em que funcionara a Feira de Amostras. Ali, o show era comandado por animadores como Belmiro Vianez e Josaphat Pires, com distribuição de prêmios aos espectadores, muitos dos quais abiscoitei, ao responder a perguntas de conhecimentos gerais.
Havia, também, apresentações de artistas locais, dentre os quais guardo, como grata lembrança, a figura de Maria de Lourdes – por onde andará a Lourdinha? – terna cantora de música hispano-americana. O espetáculo era encerrado, sempre com a presença de um cantor nacional famoso.
Toda a velha-guarda do rádio brasileiro desfilou no palco da Maloca. Os mesmos que haviam passado pela feira, e mais Sílvio Caldas, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Aracy de Almeida, Marlene, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, com o Trio de Ouro, depois sozinha, Lourdinha Bittencourt, Nora Ney e muitos outros.
A Difusora não ficou atrás e replicou com a Festa da Mocidade, também um grande auditório ao ar livre, primeiro instalado na Rua Silva Ramos, em terreno hoje ocupado pelo BEA, e mais tarde na antiga Baixa do JG, na Avenida Getúlio Vargas, onde atualmente se ergue o edifício Palácio do Rádio.
Havia grande rivalidade entre as duas emissoras e com isso, obviamente, saía ganhando o público. Às vezes, a Festa e a Maloca anunciavam, simultaneamente, duas grandes atrações, deixando-nos em dúvida quando à escolha. De minha parte, eu preferia, quase sempre, a Maloca, onde podia ficar na amurada do rio, perdido em cismas, a contemplar as luzes das embarcações ao longe.
As noites ofereciam, ainda muitas vezes ao ano, os arraiais ou quermesses, promovidos pelas diversas paróquias da cidade. Sucediam-se quase à razão de uma por bimestre, inicialmente com a de São Sebastião, em janeiro, depois a dos Remédios, a seguir a de Aparecida, logo a N.S. de Nazaré, na Vila Municipal e, finalmente, a da Matriz, em torno da Catedral.
Essas promoções eram aguardadas ansiosamente e movimentavam meia cidade, principalmente a juventude, que lá comparecia não apenas atraída pelos mais diferentes tipos de jogos, nem pela ampla variedade de guloseimas que podiam ser encontradas, mas também pela oportunidade de paquerar garotas.
Elas vinham às centenas, das redondezas ou de outros bairros, para encontros com namorados ou para o giro habitual em volta da praça, para o simples flerte ou, quem sabe, para abordagem dos rapazes, que também acorriam, de todas as partes, com o mesmo objetivo. E ali nos plantávamos até o alto-falante emudecer, dando por findo o arraial.
Aos domingos tínhamos um aperitivo, que eram as retretas da Praça João Pessoa (hoje Heliodoro Balbi), com a bem afinada banda da Polícia Militar, no belo coreto que ainda lá se encontra, tocando os sucessos musicais em voga. A praça ficava apinhada, com gente espalhada em torno do coreto, nas alamedas internas e, sobretudo, na calçada, onde se deixavam ficar os rapazes, em grupos, parados, e as moças volteando de braços dados. Saíamos com a banda, quase sete horas da noite, quando voltávamos às nossas casas para jantar e, em seguida sair de novo, rumo ao cinema ou à quermesse, se havia alguma funcionando.
Sempre que possível, nossas noitadas se completavam com serenatas. Nos meses de verão, de julho a novembro, com lua cheia ou mesmo quarto crescente, lá íamos nós preparar a seresta, que dependia da disponibilidade de instrumentistas, poucos e muito disputados na época. Geralmente levávamos dois violões e, quando aparecia, um violino.
Nossos violonistas preferidos eram Clóvis Bacury, excelente companheiro, morto prematuramente, e Domingo Lima, um crioulo bom e pachorrento, com infinita paciência para suportar as nossas desafinações. Sim, porque os cantores éramos nós mesmos. Raramente convidávamos alguns integrantes do cast de uma das emissoras locais. E do nosso grupo, constituído por José Oliva, o Pítias, Luiz Bezerra, Haroldo Costa, Stephano Novelino e Pedro Amorim, apenas este último apresentava uma bem impostada voz de tenor. Os outros variavam de razoáveis a péssimos e não poucas vezes se perdiam em agudos mais puxados, apesar do ligeiro ensaio que sempre fazíamos, na Praça da Polícia, em busca do tom exato.
Em seguida, íamos comer peixada, geralmente no Vasconcelos, uma peixaria no começo da Joaquim Nabuco, onde se servia a melhor caldeirada de Manaus. Por volta da meia-noite saíamos para a seresta, em carro de praça, se as casas eram distantes, ou a pé, se ficavam mais próximas. Normalmente a recepção era boa, pois despertar ao som de violões e violinos satisfazia o ouvido e a vaidade.
O prestígio da moça entrava em alta na vizinhança, e mais ainda se havia coincidência de duas serenatas na mesma noite, coisa nada incomum se a jovem era muito requisitada. Ela própria, aliás, se encarregava de alardear o feito, para acicatar o despeito das rivais. Muito raramente podiam acontecer fatos desagradáveis. Com o nosso grupo, ocorreram pelo menos dois.
Uma noite, íamos tocar na casa de uma garota, na Rua Huascar de Figueiredo, quando Jorge Carim, que nos acompanhava, adiantou-se uns trinta metros e parou defronte à casa escolhida. De repente, soaram dois disparos secos e Carim correu em nossa direção, lívido, a gritar que haviam atirado contra ele. Preocupados, procuramos o dono da casa, que nos explicou o mal-entendido. Ao ver um homem parado, sozinho, em atitude suspeita, disparou para o alto, pensando tratar-se de um ladrão. Esclarecidas as coisas, fizemos a seresta sem problemas, e todos cantaram, menos Carim, que só pensava em encontrar um boteco aberto para se consolar com uma boa cerveja.
Outra vez, estávamos em frente a uma casa, na Vila Municipal, quando parou um carro de praça, do qual saltou um morador, irmão da moça homenageada, que não quis conversa. Corpulento, mal-encarado e cheirando a álcool, nos deu ordem de retirada em cinco minutos. Não foi preciso tanto, pois em muito menos tempo levantávamos acampamento. E nunca mais a irmã do gorila ouviu os saglots longues dos nossos violinos.
Mas tais incidentes, como disse, foram excepcionais. Havia até pais muito gentis, que abriam a casa para servir um drinque aos seresteiros. Nosso grupo não teve a sorte de ser obsequiado dessa maneira. Muitas casas permaneciam fechadas, sem emitir nenhum sinal de vida. Mas em outras, cortinas eram levantadas ou janelas entreabertas, e podíamos divisar os rostos que nos observavam e mãos que nos acenavam. E então regressávamos, felizes e realizados.
Hoje, quando percorro de automóvel as ruas semidesertas, em plena madrugada, parece que ainda os vejo, carregados de instrumentos e sonhos, a palmilhar o calçamento lavado de luar, em sua lírica jornada noite adentro.