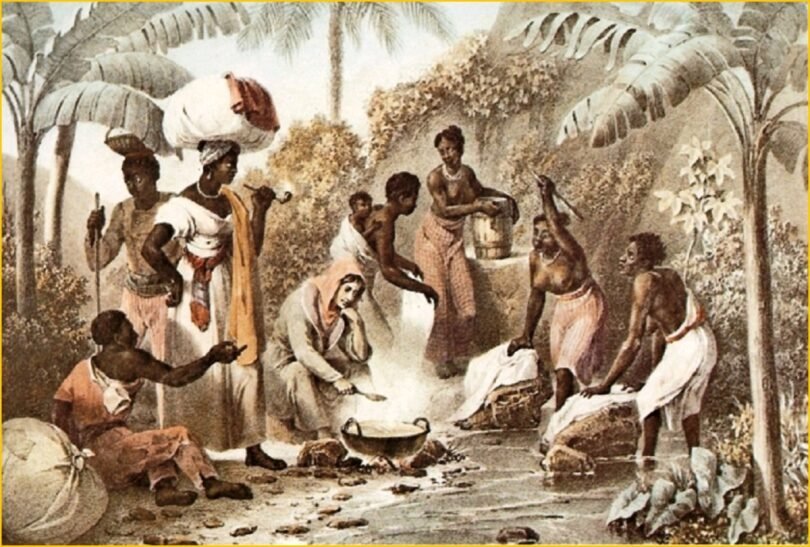Por Agripino Grieco
Não devo omitir uma alusão aos florianistas de Paraíba. Eram ali numerosíssimos e viviam a discutir com os poucos custodistas que restavam por aquelas paragens. Quase uma religião cívica, respeitada por patriotas que, jubilosos, liam o noticiário das procissões feitas aqui no Rio, na data aniversária da morte de Floriano, rumo do cemitério de São João Batista, havendo fiéis ao culto que carregavam, em andores, bustos de cartonagem do Marechal de Ferro e de Benjamim Constant.
De qualquer forma, recordo que vários Custódios entraram pela pia batismal paraibana. Especialmente os portugueses, que não estimavam o sucessor de Deodoro, faziam questão de alardear a seu entusiasmo pelo Custódio José de Melo, devido ao incidente que o homem do Itamarati suscitara com Portugal, quando revolucionários brasileiros foram recolhidos por um navio de guerra dos lusos.
Refratários às quadrinhas em que Arthur Azevedo, com o pseudônimo de Gavroche, celebrava as virtudes de Floriano, que tinha uma flor no nome, enquanto o nome de Custódio era malodorante, os minhotos ou alentejanos da localidade homenageavam o almirante rebelde, pondo-lhe em relevo a elegância, a bravura, as proezas na baía da Guanabara que puseram longo tempo em pânico os pacíficos burgueses do Rio.
Um daqueles, João Ferreira, pai de um Custódio que acabou melancolicamente guarda-noturno em subúrbio da Capital Federal, gostava muito de pássaros e, quando lhe falavam nos versos florianistas do Arthur, irritava-se e, voltando-se para as gaiolas onde trinavam os seus canários, exclamava: “Esse poeta Azevedo é um rimador aguado. Poetas são os que ali estão nas gaiolas e têm o mérito, muito maior, de não tecer loas a tiranos…”
O Ferreira era, aliás, entendido em poesia. Lia muito o Bilac, especialmente por ser o cantor da “Via-láctea” antiflorianista, embora seu admirador dissesse saber, em vendo as mestiças da Porteira, de que cor eram feitas as Frinéias dos nossos parnasianos.
Um tabelião de Barra do Piraí, Ovídio Melo, que teve soneto no florilégio de Laudelino, e cujo nome é relembrado a propósito de uma compra de sapatos efetuada pelo grande poeta Raimundo Correia, também aparecia, de quando em quando na Paraíba, a excitar ainda mais os partidários em discórdia, ainda que ninguém concluísse às direitas se ele era florianista ou custodista.
O homem foi um pêndulo a oscilar eternamente entre as duas facções. Mesmo sem nunca haver lido Renan, parecia imitar o dubitativo meneio de cabeça deste ante os problemas graves e dizia que todo mundo está certo, não havendo nada bom nem mau e apenas opiniões.
No fim da festa, irritado com esta neutralidade de eunuco e muito tabelioa, um defensor do florianismo, leitor dos trocadilhistas cariocas, acabou fazendo rir ao declarar na confeitaria do Wendling que esse Ovídio Melo era bastante Melo e nada Ovídio, faltando-lhe o estro daquele romano que, como a prever as frascarices dos fazendeiros de Paraíba e a versatilidade dos seus politiqueiros, falara na arte de amar, antes de falar em metamorfoses.
Era igualmente recordado que a fluminense Barra do Piraí se situa no entroncamento das linhas ferroviárias de Minas e São Paulo, e que, durante uma contenda política entre os dois Estados, perguntaram a um jornalista da zona com quem estava, se com Minas ou com São Paulo, e ele, que esperava a melhor oferta, respondeu: “Estou em Barra do Piraí…”
Exato, todavia, é que muitas casas paraibanas ostentavam, enquadrado em vistosa moldura, o retrato de Floriano Peixoto, e não faltavam moços e velhos que trouxessem, pendente da cadeia do relógio, uma não de todo inartística medalha com a figura enigmática daquele que Euclides da Cunha efigiou em severa água-forte e Medeiros e Albuquerque quase em lindas colorações de cromo.
Não será demasiado enumerar outros patrícios que se meteram na contenda. Um descendia do fidalgo que estimulava patriotas a irem lutar nos campos do Paraguai, libertando os que Solano López oprimia, e ao mesmo tempo estampava anúncio prometendo alvíssaras a quem lhe trouxesse um escravo fugido.
Amigo de Sebastião de Lacerda, que conhecera em Vassouras, o Antunes citava-o sempre, dando-o como criatura expansiva e culta, afeita a reconstituir na palestra os amenos episódios da juventude e a narrar o caso do velhote que declarava a um adversário: “Você não se enganou redondamente e sim quadradamente…”
Esse Antunes, que era florianista, lia sempre à noite os romances de Paulo de Kock, regalando-se naqueles efeitos cômicos tantas vezes reaproveitados pelo autor: viagens divertidas em diligências, aventuras noturnas em hospedarias com as criadinhas, calções que se rompem, jantares burgueses nos arrabaldes de Paris, expansões vaidosas de tendeiros aposentados, inventores fadados ao malogro em quanto inventam, tudo entre sentenças moralistas com que o narrador burlesco se mascarava em honesto censor dos costumes.
Custodista frenético era o famoso banqueiro de roleta apelidado Totó, septuagenário que tivera a honra de figurar numa das obras do visconde de Taunay.
Quem nunca se definiu claramente nos debates foi o polígrafo Pires de Almeida, de uma família inimiga de Machado de Assis.
Filho do município de Paraíba, esse médico gostava de por lá andar de pé no chão.
Clinicava de graça para a gente de teatro no Rio e, de tanto conviver com atores, acabou, ajudando-o nisso a cara glabra, parecendo um comediante.
Literato prolífico, deixou excelente trabalho sobre o pessoal da ribalta.
Tendo sido vítima de rumoroso jogo de capitais que ficou conhecido pelo rótulo de Encilhamento, quando a Bolsa era o campo de batalha de tantos flibusteiros terrestres, o Veridiano ufanava-se de que Floriano lhe apertara um dia a mão à entrada do Itamarati.
Morava ele num casinholo todo branco, entre goiabeiras e laranjeiras.
Caído em penúria completa e quase convertido num montão de farrapos, afrontava pinguelas bamboleantes e pedras agudas que lhe mordiam as carnes para chegar ao botequim ou ao bazar em que discutissem política.
Veridiano era descendente de um pedreiro que prestara serviços a Cândido Mendes.
Esse Cândido Mendes, maranhense de origem, formara-se em Olinda, a cidade dos graciosos balcões mouriscos, lecionando para custear as despesas de acadêmico.
Depois, tratou de fazer-se compositor, impressor e editor dos seus próprios livros e do seu próprio atlas.
Comprou várias caixas de tipos, um prelo rudimentar, papel e latas de tinta e foi descer em Paraíba, isolando-se numa bela chácara à beira-rio, onde redigiu, compôs e imprimiu ele mesmo diversos volumes, ultimando a execução de mapas que fariam presumir aparato gráfico bem mais forte.
A seguir, afirmou-se ele na Câmara Alta um católico ultramontano à Joseph de Maistre, caloroso na defesa dos bispos perseguidos pelo governo e não amedrontado pelas insídias dos mações.
Sem ser vaidoso, não deixou de comprazer-se em publicar num periódico de Paraíba as palavras com que o erudito Inocêncio, mestre de bibliografia em terras lusas, lhe agradecia a remessa de um livro, acontecendo também que, embora indiferente à moeda, divulgasse na mesma folha que um trabalho seu era vendido numa das casas locais.
E é curioso como a habitação quase monástica de Cândido Mendes se enchesse mais tarde com o alarido dos boêmios trazidos à cidade pelo sergipano Martinbo Garcez, orador que falava cinco horas a fio, o que era prova de talento, mas acima de tudo de sanidade pulmonar.
Grande era a alegria do cobrador Reginaldo ao ouvir discussões de criaturas facciosas, sendo ele possuidor de valiosa panóplia, herdada de um combatente do Paraguai, bela coleção apta a ilustrar um curso completo no tocante à arte de liquidar o próximo com arma branca ou arma de fogo.
Assinale-se que Paraíba já se ia tornando então muitíssimo cosmopolita.
Para revolta dos macróbios que sentiam saudade do tempo dos cafezais prósperos, verificou-se ali a invasão de estrangeiros das mais variadas procedências, a avaliar pelo “W” dos Wernecks e pelo “K” do botequineiro Keller, pelo Hotel do China, com seus casos de galanteria barata, para o discreto consumo da libidinagem local, pelo sotaque carregado do professor húngaro que lia Jókai e bebia Tókai e pelo sotaque não menos carregado da matrona de Marselha que ornava o lar de um engenheiro amnésico.
Quem não dava importância nem a florianistas nem a custodistas era um conferente da estação da Central do Brasil, cujo nome foi como que escrito a giz nas memórias e um bocado de esponja fez logo desaparecer.
Mostrava nas roupas amarfanhadas algo de espantalho de arrozal.
Alguém, como ele se divertisse em versejar humoristicamente, o chamou desdenhoso de poeta ferroviário. E eu aderia sem esforço ao injusto sarcasmo. Mas hoje, debaixo dos cabelos brancos, não deixo de pensar com ternura nesse homem descarnado e amarelento que persistia em evocar imagens cômicas entre cálculos de tarifas austeras.
Como que ele só conhecia da vida a aventura de um trajeto imutável: do seu casebre do Lavapés à estação e da estação ao seu casebre do Lavapés.
Deveria ter eu dado outra atenção a esse brasileiro que esmiuçava despachos e garatujava memorandos, mas também compunha os melhores versos da cidade.
Usando, dentro da boa tradição burocrática, mangas de lustrina e tendo uma roda de couro a defender-lhe os fundilhos, sentia-se feliz num recanto onde, no começo do século, tínhamos com cem réis um jornal e — o que era bem mais saboroso — uma empada ou um sorvete.
Nele existiria, quando o conheci, a história viva, e memorial em carne e osso, mais em osso que em carne, de umas três décadas de coisas ferroviárias.
Seu sobrenome: Lobato. Um sobrenome que o autor dos “Urupês”, o paulista da letra de câmbio avalizada pelo grande Rui, ainda não celebrizara.
O meu Lobato jamais lera Chamfort ou Rivarol, mas era, em se tratando de seus chefes, um demônio de irreverência a expandir-se num perpétuo epigrama.
Ainda que sem sorriso careteante de jogral, vingava-se assim das suas tarefas de vender bilhetes, despachar jacás de queijos e toucinho e, se necessário, ajudar o telegrafista meio atarantado na decifração de telegramas recebidos naquele alfabeto Morse que parece sujeira de mosca.
Chegara o Lobato à Paraíba com as algibeiras cheias de casos anedóticos e levaria meses esvaziando-as ante ouvintes não menos contentes em escutá-lo que em ler França Júnior ou Gastão Bousquet. Todos nós éramos uma platéia a boquiabrir-se em pontos de exclamação.
Afastando-se do tom pilhérico, veio ao Lobato um arranque de entusiasmo quando lhe perguntei se o Pereira Passos fora seu diretor. Como não? Fora, e Lobato se conservava um de seus devotos.