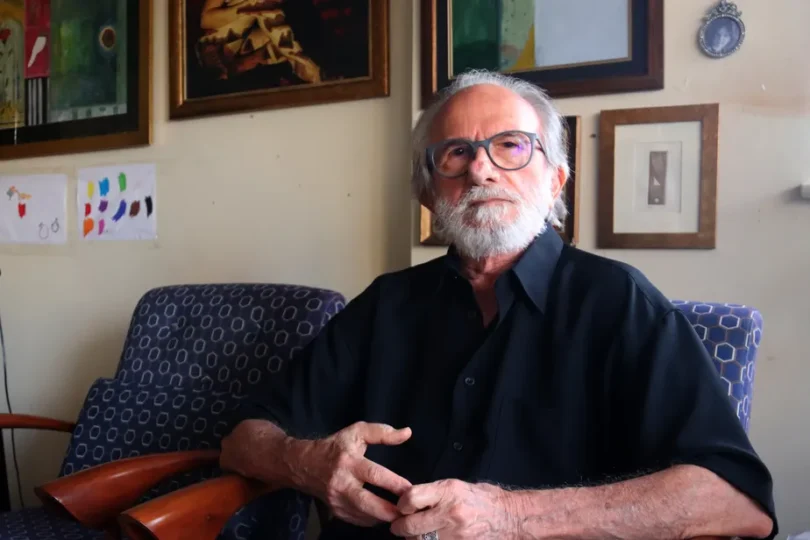Por João de Jesus Paes Loureiro
É um boi que chamo de carnavalizado e que, ao mesmo tempo, assumiu o processo que, na literatura, depois de Oswald de Andrade, passou a se chamar de antropofagia. Trata-se, portanto, de uma manifestação de arte pública antropofágica carnavalizada. Antropofágica na medida em que se alimentou e se alimenta das influências do carnaval e da mídia. Carnavalizada, porque se exibe portando aspectos semiológicos, simbólicos e plásticos que são próprios do carnaval. Mário de Andrade, que viajou até nossa região no começo do século, disse, passando pela frente de Parintins, que era extraordinário ver como tudo se enchia de entes, de deuses, de seres indescritíveis por detrás. Sobretudo se, no longe em frente, havia uma volta de rio.
Ele soube captar muito bem essa qualidade de infinitude, de sobrenaturalidade que a paisagem dos rios amazônicos contém. E é claro que isso está incorporado na paisagem cultural de cada habitante da região. Não são apenas as pessoas das metrópoles que têm uma paisagem cultural incorporada em sua alma, mas o caboclo da beira do rio, o trabalhador do campo e o homem da floresta também. Evidentemente, as pessoas de Parintins incorporaram na paisagem de sua alma esse desejo de infinitude. Daí o boi ter assumido grandiosidade, como se fosse uma prosopopéia, isto é, algo imenso, maior aparentemente do que a própria cidade. Algo que é desmesuradamente maior do que si mesmo.
O enredo tradicional do boi-bumbá pode ser enunciado da seguinte forma: o fazendeiro tem um boi e a Catirina deseja esse boi; o marido de Catirina, o Pai Francisco, resolve buscar o boi ou então matá-lo para que ela possa comê-lo, mas apenas fere o boi; ele é descoberto, o patrão tenta puni-lo; a partir daí o Pai Francisco é obrigado a tomar todas as providências para fazer o boi ressuscitar; vai buscar o médico, que nunca o ressuscita e é sempre o pajé que, no final, o consegue. Esse enredo possui a circularidade que o aproxima da narrativa mítica: o boi tradicional se exibe na arena, gira em torno da plasticidade de seus elementos cênicos; não apresenta uma continuidade horizontal, mas uma circularidade que aprofunda a história através das toadas cantadas de improviso pelo dono do boi, o patrão.
O Boi-de-Parintins, por sua vez, transformou a circularidade mítica numa continuidade discursiva e narrativa moderna dos grandes espetáculos, especificamente do grande espetáculo que é o carnaval e, por isso, desfila ao longo de uma platéia fascinada por ele. Todo mundo sabe o que vai acontecer, de modo que a estrutura dramática do boi não é o interesse pelo que vai acontecer, mas como vai acontecer aquilo que se sabe que vai acontecer. O genial é que, à semelhança dos entreatos da comédia dell’arte, do teatro tradicional ou dos carros alegóricos nos desfiles de carnaval, foram criados personagens, originais carros alegóricos, grupos de alegorias, que vão se interpolando às cenas que narram essa pequena história do boi. Como cada desfile de boi dura três horas, é claro que, para manter o interesse de uma platéia de mais de 35 mil pessoas, é necessário recheá-lo de novidades, de atrações, de brilho, de surpresas, para que a platéia possa manter-se acompanhando a apresentação.
Temos, portanto, que o Boi-de-Parintins é um boi antropofágico, que se alimenta da influência de outras expressões culturais, incorporando-as à sua substância, e a o mesmo tempo carnavalizado, porque juntou a tradição do boi-bumbá à forma de exibição destinada ao grande público para o qual se propõe. Muitas expressões da arte popular repetem uma mesma forma de apresentação porque não têm acesso a novos materiais ou técnicas, por motivos de ordem econômico-social ou de informação. Mas o Boi-de-Parintins, quando teve acesso a novas técnicas, a modernos equipamentos de som, a um espaço enorme para se exibir, à grandiosidade do espaço cênico, evidentemente transformou-se para s e ajustar a essa nova possibilidade de expressão.
Um dos antigos organizadores desse boi me disse: “Olha, quando começamos esse boi, iluminávamos a cena com lamparina, que é esse pequeno farolzinho que você acende e fica ali tocado pelo vento. Era uma plataforma pequena, pouca gente. À medida que o espaço foi crescendo, a iluminação melhorou e surgiram novas possibilidades, fomos criando e estabelecendo novas formas de expressão de acordo com tudo isso”. As palavras não foram bem essas e nessa ordem, mas traduzem o que ele pretendia dizer-me. Isso significa que, na verdade, temos uma arte pública extraordinária, agora se expandindo em comunicação com outras culturas, e que, através de materiais e técnicas, a população ribeirinha teve a possibilidade de ampliar largamente a sua criatividade.
(Excerto do ensaio “Tradição, Tradução, Transparência”, publicado na Revista de Estudos Amazônicos, Ano II, Nº 2, Manaus)